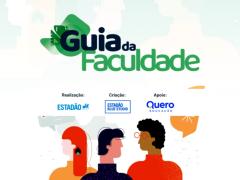Jean-Claude Bernardet: professor, crítico, ator, escritor, cineasta e “bastardo”
Em homenagem póstuma, último número da Revista Matrizes resgata entrevista de docente da ECA e importante pensador do cinema brasileiro
Para homenagear Jean-Claude Bernardet, docente do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão (CTR) e importante pensador do cinema nacional, que nos deixou em 12 de julho de 2025, a última edição da revista MATRIZes apresenta uma entrevista do autor. Segundo o comitê editorial do periódico, Bernardet era dotado de uma “personalidade tão multifacetada quanto a de seu mestre Paulo Emílio Sales Gomes” e deixou “uma marca importante na cultura nacional ao atuar como crítico, ator, roteirista, cineasta, tradutor, escritor, professor e pesquisador.”
Concedido em dezembro de 2019 a Fábio Rogério, cineasta e pesquisador na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), o depoimento está disponível pela primeira vez para leitura, depois de parcialmente publicado no podcast Conversas de Cinema, em 2024. Na entrevista, Bernardet fala sobre passagens de sua vida e de sua relação com o cinema brasileiro. Confira um trecho a seguir:
MATRIZes: Por que Brasil em tempo de cinema é dedicado a Antônio das Mortes (Antônio das Mortes é um personagem interpretado por Maurício do Valle nos filmes Deus e o Diabo na terra do sol e O Dragão da maldade contra o santo guerreiro, ambos dirigidos por Glauber Rocha)?
Jean-Claude Bernardet: Ele é dedicado a Antônio das Mortes com as primeiras palavras, ou pelo menos com a segunda: “este ensaio quase autobiográfico é dedicado a Antônio das Mortes”. Isso porque, por um lado, eu me identifiquei muito com Antônio das Mortes, com o fato de ele ser vacilante, de estar de um lado e também do outro, etc. Eu me sinto assim também, não tanto politicamente, mas devido às duas culturas que me formaram, às duas nacionalidades, e pelo fato de eu ter tido uma infância na França inesquecível, muito marcada pela guerra. Aí as pessoas dizem: “ah, mas você está aqui há 70 anos, você é brasileiro”. Não, não é assim, não é pela quantidade de anos. Eu não completei o ensino secundário, quer dizer, completei o curso, mas não tenho diploma porque sou péssimo em matéria de diplomas. E aí fui reprovado em Filosofia. A Filosofia era uma disciplina na qual eu até ia bem; eu gostava dessa disciplina, mas ficava paralisado diante da prova, de forma que tirei uma nota péssima. Houve uma repescagem, três meses depois, após as férias. E aí eu fiz o seguinte: resolvi realmente estudar muito, muito, muito, muito. Estudei (Jean-Paul) Sartre através de um autor, discípulo do Sartre, reconhecido por ele, que escreveu um livro de divulgação do pensamento dele.
“Claro que eu não ia entender O Ser e o Nada. Estudei Sartre, depois fui para a repescagem; de novo, não obtive nota suficiente, porque Sartre nem estava no programa, e acho que eles não gostavam muito dele, não é? Então decidi que tudo bem, não ia continuar nesse sentido. Em todo caso, nesse livro de divulgação de Sartre, o autor Francis Jeansonm expõe o conceito de 'bastardo' na obra de Sartre. Eu me identifiquei absolutamente com esse conceito: o indivíduo que não se identifica com nada, que está em vários lugares ao mesmo tempo e não tem uma genealogia muito clara.”

Eu me identifiquei muito com isso. Ou seja, o trabalho que fiz para a repescagem não deu resultado enquanto repescagem, mas aprendi muita coisa, e esse conceito acabou sendo — não posso dizer um conceito formador, porque eu tinha uns 19 anos naquela época, imagino — mas um conceito que contribuiu para criar a imagem que tenho de mim e a imagem que tento passar publicamente.
MATRIZes: O que te atrai no cinema brasileiro contemporâneo hoje?
JCB: Um dos fatores que devo levar em conta é o fato de eu ter uma doença grave na vista e enxergar a tela desfocada, embaçada. Às vezes tenho que perguntar à pessoa ao meu lado. Como aconteceu ontem, por exemplo: eu estava ao lado do Amilton (Pinheiro) e me confundi entre duas atrizes, que eu achava que eram diferentes, mas não tinha muita certeza. De forma que é muito prejudicada a minha percepção. Além do mais, depois dos 80, 81, eu comecei a ficar também com problemas de audição. Agora estou sem aparelhos, mas no cinema e no teatro às vezes tenho muita dificuldade em captar o diálogo. Portanto, seria falso dizer que tenho uma opinião muito formada. De qualquer forma, eu tenho uma certa tendência a ser muito crítico em relação aos chamados filmes autorais, que, a meu ver, nem sempre são competentes e são extremamente complacentes. Isso me incomoda muito. Agora, se você me perguntar qual filme mais me marcou ultimamente, posso citar Azougue Nazaré (de Tiago Melo), Bacurau (de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles), talvez outro, mas o que mais me marcou mesmo é um curta-metragem intitulado Filme dos Outros (de Lincoln Péricles), feito em parte com material de cartões de celulares roubados, produzido por um cineasta do Capão Redondo, bairro periférico de São Paulo, que, em uma época, foi considerado o mais violento da cidade e depois foi, mais ou menos, apaziguado, tranquilizado pelo PCC, que realmente que domina nessa região de São Paulo, em muitas regiões, aliás, né? Esse filme, pela sua produção e dispositivo, é realmente transgressor, pois parte de uma ação repudiada pela sociedade em geral — o roubo de um objeto, no caso, um celular — e transforma esse ato em matéria-prima de um gesto estético, o que considero uma inovação no nosso meio cultural. Existem muitos filmes de periferia; muitos deles eu gosto, mas digamos que são documentários ou entrevistas, com situações interessantes. No caso do filme de Lincoln, houve um gesto estético que se diferencia de tudo que se faz. Tanto que esse filme do Lincoln circula muito, foi parar até à Alemanha, se não me engano. O filme, ele não. Lincoln tem uma coisa bem interessante: de certa forma, dialoga com o meu pensamento que está exposto desde os anos 60, inclusive no Brasil em tempo de cinema, segundo o qual a representação do povo é elaborada pela classe média. Não sei se eu tinha tanta clareza, não sei se tenho agora, mas o livro explodiu de certa forma e foi tão rejeitado por causa desse centro de pensamento, mesmo que o conceito de classe média não tenha sido muito explicitado por mim. Inclusive, eu não sabia como fazer isso; a falta de conhecimento não era apenas um problema de desinformação, mas também uma ausência de bibliografia. Quer dizer, a sociologia brasileira não se interessava pela intelectualidade, pelos artistas etc. Quer dizer, o Sergio Miceli, talvez, já estivesse começando a publicar esses livros, mas eu li os livros dele que foram muito importantes, eu li depois. Mas há um filme que marca, a meu ver, bastante essas limitações que tivemos em relação a livros de sociologia sobre a classe média, que é o filme do (Arnaldo) Jabor, A opinião pública, que é um filme sobre a classe média, a classe média mais ou menos baixa, não totalmente, mas mais ou menos baixa, e que usa a tese dos colarinhos brancos do (C. Wright) Mills, um sociólogo americano que já havia publicado vários livros. E eu não li esse livro; eu sabia da existência dos colarinhos brancos, mas não os utilizei e acabei me defrontando sozinho com o conceito. De qualquer forma, fui muito criticado na época, muito, muito, muito criticado. Inclusive uma pessoa me disse: “o seu conceito de classe média não tem nenhum fundamento, não tem embasamento teórico, não tem nada”. Mas acontece que funcionou. Funcionou até hoje. Num texto sobre Bacurau, escrito por alguém da Unicamp, Fernão Ramos, ele retoma Brasil em tempo de cinema como sendo uma certa matriz de pensamento. E é por meio dessa matriz que ele se relaciona com um aspecto do filme de Kleber Mendonça. Com Lincoln acontece o seguinte: Lincoln rejeita a imagem do povo elaborada pela classe média. Eu vou publicar uma entrevista com ele; já tivemos muitas conversas sobre essa questão. O olhar que ele tem sobre a periferia e a quebrada não é o olhar da classe média, e a classe média não enxerga a quebrada. Só vê a si mesma. Eu acho muito interessante, e meu contato com ele é bom; estou realmente levando em consideração esse pensamento. Uma outra pessoa de quem estou relativamente próximo é Francis Vogner (dos Reis). Publicamos agora um texto em coautoria. Não sei se é nesse texto ou em uma correspondência bastante intensa, talvez em um e-mail que ele me enviou; em todo caso, primeiro é preciso apresentar um pouco o Francis. Ele é de Diadema, região industrial de São Paulo, e chegou ao cinema brasileiro pela via da pornochanchada. Não me lembro exatamente quando ele nasceu, por volta de 1980. Quando ele era uma criança um pouco mais amadurecida e já na adolescência, o período da pornochanchada no circuito de cinema já havia passado; no entanto, canais de televisão apresentavam pornochanchada tipo às onze horas da noite, 23h, 23h30, e ele e colegas assistiam a esses filmes porque era a possibilidade que tinham de ver mulheres nuas ou quase nuas. Essa foi a abordagem do cinema brasileiro para Francis, e isso molda uma percepção totalmente diferente da nossa. Para ele, o cinema era isso. Você entende? Quer dizer, os ambientes, a gestualidade, a maneira de falar, tudo isso fazia parte do universo dele. Só depois ele chega a Glauber (Rocha) e ao Cinema Novo etc., só depois, com certa surpresa, porque não era o cinema brasileiro dele. E aí ele começa a estudar Paulo Emílio (Sales Gomes), Ismael Xavier, a mim etc. Ele tem uma reflexão muito interessante sobre A marvada carne (de André Klotzel). A marvada carne é um filme que se quer popular, baseado em histórias populares do interior de São Paulo, mas o que ele vê é um cinema popular com mediação da classe média. Ele usa essa palavra: mediação. Enquanto a pornochanchada é um filme popular sem mediação, A marvada carne não consegue se livrar dessa mediação, resultando no fato de que não é popular. É uma reflexão que eu acho interessantíssima e bastante inovadora na concepção, nas reflexões ou na história do cinema brasileiro, algo que ninguém havia trazido antes, né? Então, estou me identificando mais com essa ala de pessoas. Lincoln, em particular, porque ele é a resposta ao que escrevi em Brasil em tempo de cinema. Entre os filmes mais marcantes para mim dos últimos anos, realmente está Filme dos outros (de Lincoln Péricles).
MATRIZes: Você…
JCB: Peraí, eu vou acrescentar, então, alguma coisa em relação a Brasil em tempo de cinema. Realmente, para mim, Lincoln (Péricles) é uma resposta, meio século depois, mas é uma resposta. Agora, há outra resposta igualmente fundamental para mim, que é a resposta do (Eduardo) Coutinho. Num seminário que houve em torno de mim, Coutinho falou que havia muitas ideias perturbadoras no meu trabalho, mas eu entrei para o cinema e havia outras coisas que ele achava muito dogmáticas etc. E é verdade, eu fiz nos anos 60, ah, coisas assim, talvez ainda nos anos 70, às vezes bastante dogmáticas, mas em um momento ele afirmou: “Cabra marcado para morrer, o segundo, eu fiz para ele”. Eu. Entende? Eu estava na sala e fiquei assim: “pahhh”. Mas interessante, não sei se ele fez para mim ou não; em todo caso, quando ele se qualifica no filme como intelectual, a União Nacional dos Estudantes indo para lá, de certa maneira ele responde a isso, quer dizer, pelo menos ele leva em consideração ideias que estão expressas em Brasil em tempo de cinema. Então, as duas respostas muito fortes foram essas duas. E Coutinho falou isso não há muito tempo, enfim, sei lá, uns cinco anos desde que vi esse seminário. E foi muito importante para mim, inclusive pelo seguinte: quem era amigo do Coutinho era minha mulher (Lucila Ribeiro Bernardet). Coutinho, para mim, sempre foi uma pessoa mais distante. No entanto, aconteceu de Coutinho me telefonar por causa de um texto, uma vez ou outra, mas nós nunca tivemos um contato mais familiar. Nunca sentei num boteco com ele, nunca tomei cachaça nem cerveja com ele. No entanto, entre ele e eu há um diálogo muito intenso, e esse diálogo se dá pelas nossas obras. Eu acho que ele tem muita intuição, uma série de coisas que eu escrevi. Uma coisa que marcou muito é que, quando publiquei o pequeno ensaio sobre Cabra marcado para morrer, comecei com uma citação de Elizabeth Teixeira e terminei com uma citação de Walter Benjamin. Walter Benjamin não está citado no filme, mas eu senti toda a questão da teoria da história, das ruínas da história; tudo isso eu senti vendo o filme, vi muitas vezes esse filme. E aí ele me disse: “olha, fiquei muito surpreso com a citação de Walter Benjamin, porque durante o filme eu estava lendo Walter Benjamin. E você percebeu”. Só no fim da vida houve uma aproximação; viajamos juntos etc. Mas isso, para mim, é muito importante: ter uma aproximação da obra, não porque eu conheço o cineasta que me contou: “ah, eu vou fazer esse filme, olha esse filme, ah, montei assim”. Não, mas pela obra. Esse é um motivo, inclusive, no Rio, quando eu estava morando lá e trabalhando no (Jornal) Opinião: eu não frequentei os botecos, os bares etc. Eu não frequentei. Há um bar onde esses cineastas se reuniam, que era o Antonio’s. E um dia Gustavo Dahl me pediu para ir com ele ao Antonio’s. Eu era muito amigo do Gustavo: “não, Gustavo, eu não frequento esses lugares etc.”. Aí ele me disse: “não, venha hoje, porque o Paulo Francis está lá; eu gostaria de te apresentar, ele quer te conhecer, então, vamos lá”. Aí fui encontrar Paulo Francis no Antonio’s, e foi a única vez em que pisei lá. E isso me dava uma maior liberdade, você entende?
“Não que eu teria deixado de escrever o que escrevi, mas eu não tinha que dizer: ‘ó, fulano é meu amigo, como posso escrever isso? Ele vai ficar chateado’. É mais ou menos assim que as coisas ocorrem. Então, eu quis absolutamente escapar dessa hipocrisia, e escapei. Bem ou mal, enfim, textos bons ou não, eu acho que escapei disso. Esse certo mundanismo, desse meio de bares, de pré-estreias…”
Eu vou pouquíssimo a pré-estreias, é muito raro. Detesto isso, porque depois da projeção vai ter um oba-oba, de música que nem corresponde, entende? Aconteceu com um determinado cineasta, muito amigo meu, que elogiou o filme junto ao diretor. Aí saímos, ele e eu, e eu: “fulano, como se pode gostar desse filme?”. Ele: “eu não gosto. É péssimo o filme”. “Mas você elogiou”. “Mas fulano é meu amigo, não vou fazer uma desfaçatez”. Eu acredito ter escapado absolutamente disso.
MATRIZes: Como você lida com a finitude, com a ideia de que a vida tem fim?
JCB: Eu lido bem. Foi feita uma série sobre pessoas idosas, com pessoas idosas, que é do Sergio Roizenblit. E um dos episódios é comigo. Sergio depois me disse: “olha, eu estou bastante desligado da morte, mas nunca vi uma pessoa tão desligada quanto você”. Então, eu não tenho nenhum problema. Outro dia, estávamos trabalhando, e uma pessoa do grupo, vendo o celular, disse: “um amigo meu faleceu. E é um grande amigo desde a adolescência, sei lá o quê”. Ele estava bastante comovido. Aí disse: “ele tinha tanto... Ele é mais ou menos jovem, uns 40 anos, ele teve um infarto”. E aí eu digo para Rubens (Rewald): “a morte do teu amigo é uma morte que merece aplausos. Essas mortes fulminantes são geniais”. Aí ele disse: “não, mas ele tinha tantos projetos.” Eu falei: “os mortos não têm projetos”. Rubens: “não, mas ele ia fazer isso, aquilo”. Eu digo: “Rubens, isso não é pensamento de morto, isso é pensamento de vivo”. A dúvida que eu tenho é o que vai acontecer para chegar lá, quer dizer, se eu vou ficar dependente, se vou ficar paralisado, se vou ficar de cadeira de rodas. Portanto, não me atemoriza absolutamente nada.

Revista Matrizes
MATRIZes é a revista científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação (PPGCOM) da ECA USP. Desde 2007, publica estudos que tenham por objeto a comunicação em seus múltiplos aspectos e dimensões, contemplando pesquisas teóricas e empíricas sobre fenômenos comunicacionais, meios de comunicação e mediações comunicativas nas interações sociais. Também abre espaço às reflexões sobre tecnologias, culturas e linguagens midiáticas em suas implicações sociopolíticas e cognitivas. O periódico incentiva o horizonte transdisciplinar do pensamento comunicacional e tem como meta redimensionar conhecimentos e práticas que contribuam para definir, mapear e explorar os novos cenários comunicacionais da contemporaneidade.
Além da entrevista com Jean-Claude Bernardet, a edição mais recente traz o dossiê Novas Perspectivas em Teorias da Comunicação, com artigos de diversos autores. Em um deles, Maria Immacolata Vassallo de Lopes analisa produções recentes de ficção televisiva para atualizar a noção de Brasil profundo. Merecem destaque também um estudo sobre a origem e o ideário do movimento red pill, de Erick Felinto, e um artigo sobre a cena Ballroom carioca e seus impactos na democratização da cidade para pessoas trans, de autoria de Cíntia Sanmartin Fernandes e Micael Herschmann. Para ver esses e outros textos, acesse a revista na íntegra.